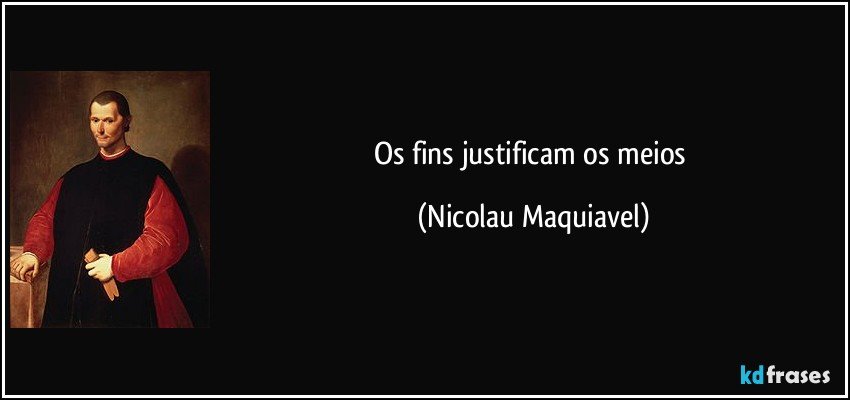Jovens que iniciaram protestos no país trocam experiências com exército pacífico indígena de Chiapas
TATIANA FARAH
O GLOBO
Atualizado:23/06/13 - 9h53

Zapatista recebe bandeira de militante o MPL de Brasília no México, em 2007 Terceiro / Divulgação
SÃO PAULO — “Abajo y a la izquierda está el corazón”. A frase do subcomandante Marcos, do Exército Zapatista de Libertação Nacional, do México, embala o discurso do Movimento do Passe Livre (MPL), que deu início às manifestações pelo país, forçando a queda no preço das tarifas de transporte público. “Abaixo” estão os grupos marginalizados e as minorias, que o MPL chama de “os de baixo”. E “à esquerda”, o discurso anticapitalista. Formado por universitários da USP e trabalhadores da periferia, o movimento se intitula anticapitalista, apartidário, pacífico, autônomo e horizontal.
Alguns dos militantes do MPL, como Luiza Calagian, paulista de 19 anos, já atravessaram o continente para conhecer as comunidades zapatistas de Chiapas, que ganharam atenção mundial em 1994, quando os zapatistas baixaram as armas e passaram a negociar direitos indígenas com o governo mexicano pacificamente. Viraram exemplo para os novos movimentos sociais que se organizavam contra os efeitos da globalização.
Como os zapatistas, o MPL se difere dos partidos na forma horizontal de se organizar, em que tudo é decidido coletivamente. Não existem cargos nem líderes. Todos falam em nome do movimento. Nas ruas, não têm carro de som nem comício, para não ditarem o discurso dos “de baixo”.
“Podemos ser qualquer um de vocês”, diz estudante
“Marcos é um gay em São Francisco, um negro na África do Sul, um asiático na Europa, um chicano em San Isidro, um anarquista na Espanha...”. Nos anos 90, o subcomandante Marcos, o intelectual da Universidade Autônoma do México que se embrenhou pela selva de Chiapas para lutar com os indígenas, tornou-se quase uma lenda. Questionados sobre quem seria o subcomandante — “sub” porque o comandante são os índios, os zapatistas, que cobrem o rosto com máscaras —, respondem: “Todos somos Marcos”. No Brasil, o MPL tenta seguir por uma linha semelhante:
— Podemos ser qualquer um de vocês — diz Mayara Vivian, 23 anos, representante do movimento
Os militantes evitam falar de suas vidas e mal contam onde trabalham e estudam. Entre os que mais apareceram durante duas semanas de protestos, a maioria é estudante de Ciências Humanas da USP, com idades entre 19 e 23 anos. Marcelo Hotimsky, de 19 anos, que faz Filosofia, explica:
— Existe influência zapatista sobre os movimentos antiglobalização. Os zapatistas fazem parte de um processo histórico do qual a gente é fruto.
Apesar de terem sido praticamente expulsos da manifestação que eles mesmo convocaram, na quinta-feira, na Avenida Paulista, por apoiar a presença de partidos de esquerda e as bandeiras de movimentos sociais, os militantes do MPL dizem ser apartidários. Em reunião antes do protesto, vetaram a proposta dos partidos de usar um carro de som.
— Usamos a bateria nos atos, não o carro de som. Não queremos ditar discurso. São aspectos que nos diferem dos partidos políticos — diz Hotimsky.
Os partidos e movimentos sociais tradicionais são parceiros do Passe Livre em causas específicas, mas os militantes não fazem concessões quando esbarram em conflitos. Petista, o prefeito Fernando Haddad foi duramente criticado pelos jovens mesmo depois de baixar o preço da tarifa. Eles também não se responsabilizam pelas mobilizações na rua:
— A população tem capacidade de se organizar — defende Mayara.
O Exército Zapatista de Libertação Nacional nasceu em 1983 e atuou na clandestinidade, na Selva Lacandona, no México, até 1994. Depois de uma guerra sangrenta contra o Exército do governo, que durou 12 dias, o grupo guardou as armas. Seu discurso, com reverberação pela internet, despertou a atenção mundial — que vivia os primeiros momentos dos grupos contra a globalização — e continua atuando em Chiapas (T.F.)
Atualizado:23/06/13 - 9h53

Zapatista recebe bandeira de militante o MPL de Brasília no México, em 2007 Terceiro / Divulgação
SÃO PAULO — “Abajo y a la izquierda está el corazón”. A frase do subcomandante Marcos, do Exército Zapatista de Libertação Nacional, do México, embala o discurso do Movimento do Passe Livre (MPL), que deu início às manifestações pelo país, forçando a queda no preço das tarifas de transporte público. “Abaixo” estão os grupos marginalizados e as minorias, que o MPL chama de “os de baixo”. E “à esquerda”, o discurso anticapitalista. Formado por universitários da USP e trabalhadores da periferia, o movimento se intitula anticapitalista, apartidário, pacífico, autônomo e horizontal.
Alguns dos militantes do MPL, como Luiza Calagian, paulista de 19 anos, já atravessaram o continente para conhecer as comunidades zapatistas de Chiapas, que ganharam atenção mundial em 1994, quando os zapatistas baixaram as armas e passaram a negociar direitos indígenas com o governo mexicano pacificamente. Viraram exemplo para os novos movimentos sociais que se organizavam contra os efeitos da globalização.
Como os zapatistas, o MPL se difere dos partidos na forma horizontal de se organizar, em que tudo é decidido coletivamente. Não existem cargos nem líderes. Todos falam em nome do movimento. Nas ruas, não têm carro de som nem comício, para não ditarem o discurso dos “de baixo”.
“Podemos ser qualquer um de vocês”, diz estudante
“Marcos é um gay em São Francisco, um negro na África do Sul, um asiático na Europa, um chicano em San Isidro, um anarquista na Espanha...”. Nos anos 90, o subcomandante Marcos, o intelectual da Universidade Autônoma do México que se embrenhou pela selva de Chiapas para lutar com os indígenas, tornou-se quase uma lenda. Questionados sobre quem seria o subcomandante — “sub” porque o comandante são os índios, os zapatistas, que cobrem o rosto com máscaras —, respondem: “Todos somos Marcos”. No Brasil, o MPL tenta seguir por uma linha semelhante:
— Podemos ser qualquer um de vocês — diz Mayara Vivian, 23 anos, representante do movimento
Os militantes evitam falar de suas vidas e mal contam onde trabalham e estudam. Entre os que mais apareceram durante duas semanas de protestos, a maioria é estudante de Ciências Humanas da USP, com idades entre 19 e 23 anos. Marcelo Hotimsky, de 19 anos, que faz Filosofia, explica:
— Existe influência zapatista sobre os movimentos antiglobalização. Os zapatistas fazem parte de um processo histórico do qual a gente é fruto.
Apesar de terem sido praticamente expulsos da manifestação que eles mesmo convocaram, na quinta-feira, na Avenida Paulista, por apoiar a presença de partidos de esquerda e as bandeiras de movimentos sociais, os militantes do MPL dizem ser apartidários. Em reunião antes do protesto, vetaram a proposta dos partidos de usar um carro de som.
— Usamos a bateria nos atos, não o carro de som. Não queremos ditar discurso. São aspectos que nos diferem dos partidos políticos — diz Hotimsky.
Os partidos e movimentos sociais tradicionais são parceiros do Passe Livre em causas específicas, mas os militantes não fazem concessões quando esbarram em conflitos. Petista, o prefeito Fernando Haddad foi duramente criticado pelos jovens mesmo depois de baixar o preço da tarifa. Eles também não se responsabilizam pelas mobilizações na rua:
— A população tem capacidade de se organizar — defende Mayara.
O Exército Zapatista de Libertação Nacional nasceu em 1983 e atuou na clandestinidade, na Selva Lacandona, no México, até 1994. Depois de uma guerra sangrenta contra o Exército do governo, que durou 12 dias, o grupo guardou as armas. Seu discurso, com reverberação pela internet, despertou a atenção mundial — que vivia os primeiros momentos dos grupos contra a globalização — e continua atuando em Chiapas (T.F.)